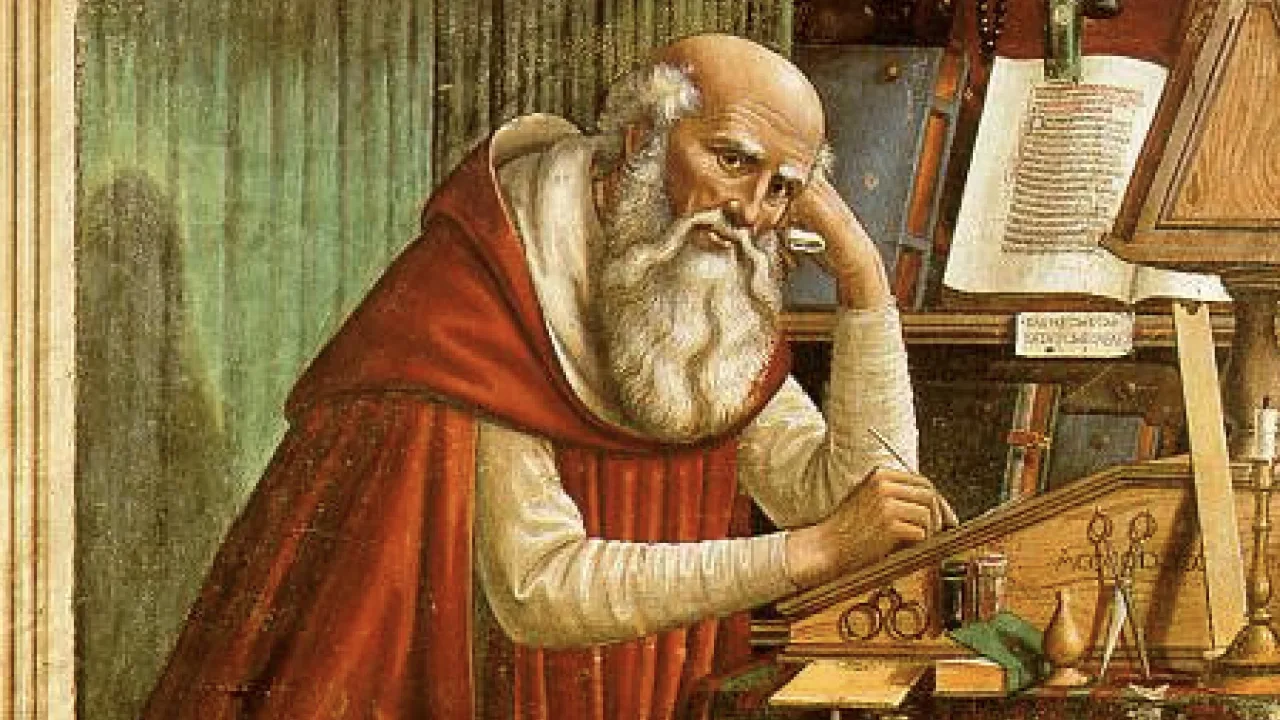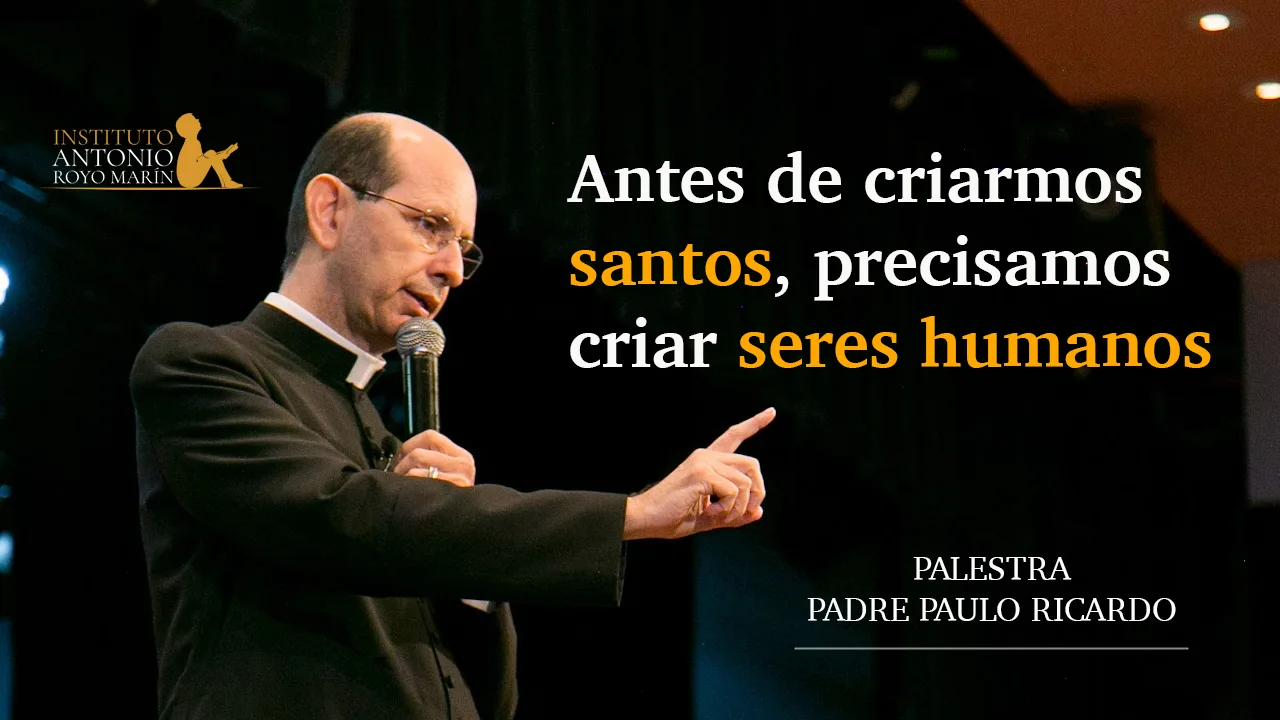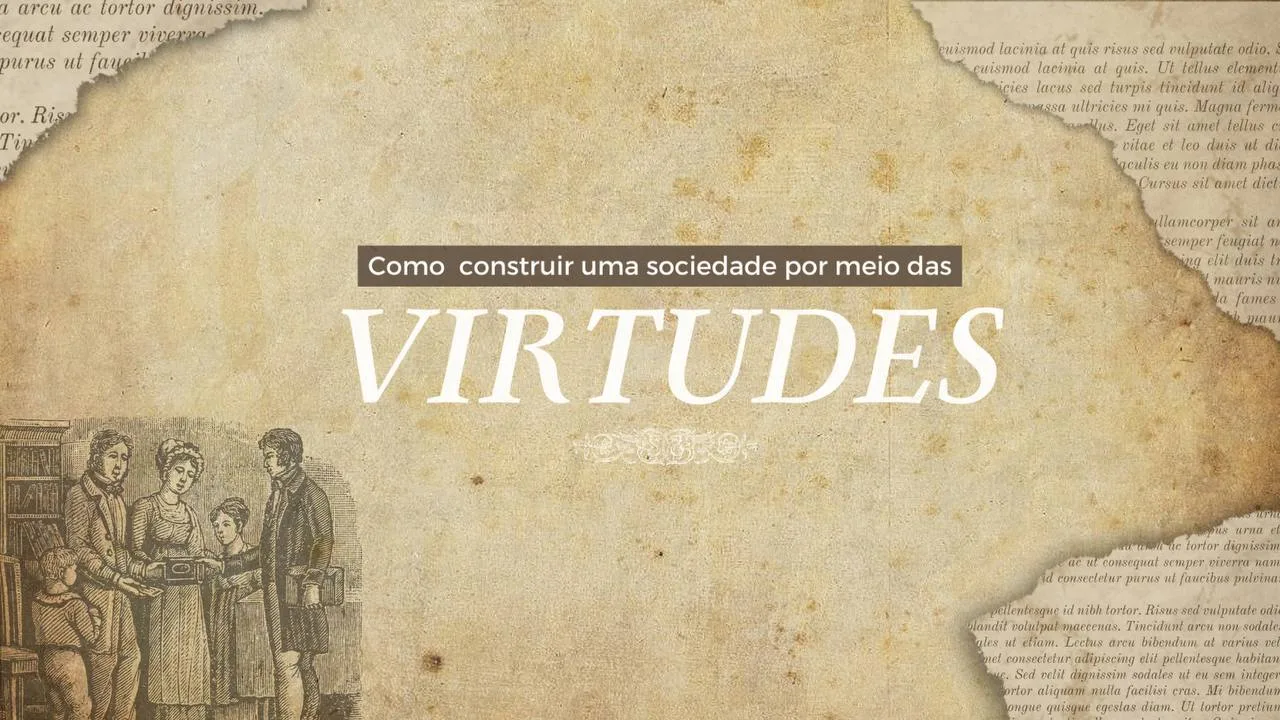Um dos elementos presentes nos mais diversos tipos de educação já praticados pela humanidade é o ensino da matemática. É provável que, atualmente, o conteúdo matemático exigido aos alunos da educação básica seja o maior da história; em todos os currículos consta como objetivo principal da disciplina o “desenvolvimento de proficiência em matemática”. Mesmo assim, a pergunta mais natural que poderia ser feita diante disso dificilmente é respondida: o que é a proficiência matemática? Na prática, os professores consideram que saber matemática é poder ser aprovado nos testes vestibulares mais difíceis, como a fuvest ou o vestibular para o ita (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Porém, ao dizermos que tais provas medem a proficiência em matemática e que a proficiência em matemática equivale a passar nos testes, estamos dizendo que cantar é fazer aquilo que fazem os cantores. A questão “o que é a proficiência em matemática?” permanece sem resposta.
Na tentativa de esboçar uma solução, partiremos da experiência de um professor de matemática em uma sala de aula do 6º ano do Ensino Fundamental, entremeada por alguns comentários ao diálogo platônico Ménon.
*
No início do Ensino Fundamental ii, começamos a ensinar a matemática de maneira mais teórica e formal. Ness e período, já começamos a utilizá-la como instrumento para mostrar aos alunos certos aspectos do funcionamento da inteligência na apreensão da verdade. Desde as primeiras aulas, meditamos com eles sobre os tipos de verdade e o modo de conhecê-las. Dentro desse caminho, a experiência que vamos descrever agora é uma peça fundamental.
A certa altura, o professor encerra uma das aulas pedindo para que seus alunos leiam, resumam e estudem o capítulo da apostila sobre adição, sobre o qual serão questionados na aula seguinte. Chegado o grande dia, o professor começa por perguntar: — Vocês estudaram o capítulo sobre adição? Ao que os alunos, confiantes e felizes por ter cumprido seu dever (às vezes, com algumas exceções), respondem: — Sim! Estudamos! O professor pergunta: — Entenderam tudo? Os alunos respondem: — Sim! Após a resposta afirmativa, o professor faz outra pergunta, levemente diferente: — Então quer dizer que vocês sabem tudo sobre adição? Resposta: — Sim!
Aqui já vale uma reflexão. Esses alunos já estudaram bastante sobre a adição nas séries anteriores, o que faz esse capítulo ter um sabor de revisão; já foram expostos muitas vezes ao mesmo conteúdo e, depois dos estudos em casa, respondem com plena convicção: — Eu sei!
Depois da breve introdução, o professor começa a fazer perguntas sobre o assunto. — O que é a adição? — Quais as partes da adição? — Quais as propriedades da adição? Todas elas são respondidas quase em uníssono, pois são respostas memorizadas com diligência nos dias anteriores. Depois de responderem tudo de cor, o professor solta um elogio: — Nossa! Vocês se lembram de tudo. Quer dizer que vocês sabem tudo sobre adição? Os alunos, com a confiança ainda maior, respondem: — Sim!!!
Chegamos assim à parte mais interessante (e preferida deste que vos fala). O professor, de uma forma que só um professor consegue fazer, escolhe o aluno que parece mais confiante e lhe pergunta, diretamente: — Fulano, quais são mesmo as propriedades da adição? A resposta: — Comutativa, associativa e elemento neutro. O professor reforça: — Quer dizer que a adição tem a propriedade comutativa? O aluno: — Sim! E é neste momento que o professor faz a grande pergunta filosófica:
— Por quê?
Neste exato momento, aqueles semblantes de confiança se transformam; podemos ler em seus rostos muitas coisas que lhes passam pela cabeça. Alguns percebem prontamente que a pergunta tem uma natureza e uma intenção diferente das anteriores. Alguns deixam transparecer uma espécie de revolta, como se dissessem que o professor está trapaceando ao perguntar algo que não está na apostila.
O fato é que o aluno responde à pergunta com outra pergunta: — Como assim, “por quê”? O professor continua: — Ora, você fez uma afirmação: disse que a adição tem uma propriedade comutativa. Eu estou perguntando o porquê. Então, o aluno, ao tentar se defender, apela instintivamente para a autoridade e diz: — Está na apostila. Ao que o professor retruca: — Acontece que fui eu quem escreveu a apostila; e se eu mudei de idéia? Os alunos, mudando de estratégia, começam a apelar para exemplos: — Ora, professor, três mais cinco são oito, e cinco mais três também são oito, é óbvio! E o professor continua: — mas vocês me disseram em aulas passadas que os números são infinitos; como querem me convencer, com um único exemplo, de que isso é válido para todos os números?
Normalmente, ainda aparecem algumas hipóteses mais ou menos razoáveis, embora facilmente refutadas pelo professor, até que, quase em uma catarse de desistência, a turma admite: — então eu não sei! Ao que o professor, feliz da vida, exclama: — Ahá! É isso mesmo! Vocês não sabem.
O professor está feliz não por ter “ganho” a discussão, mas por finalmente ter alcançado a finalidade da experiência: os alunos finalmente perceberam que não sabem algo que pensavam saber . Esse era um dos objetivos de todo o trabalho.
Logo depois, o professor os conduz por certa reflexão. A definição de adição dada em aulas anteriores é que adicionar é “contar juntamente o que havia sido contado separadamente”, ou seja, somar duas quantidades é contá-las juntamente em um único processo de contagem. Sendo evidente que, para a contagem, o ponto de partida é irrelevante, obteremos sempre o mesmo valor quando contamos duas quantidades, não importa por onde comecemos; isso prova que há uma propriedade comutativa na adição dos números naturais. Nesse momento, a turma solta o brado “Ah! É mesmo! É verdade!”, que soa como música para os ouvidos de um professor.
*
Apesar de sua aparente banalidade, este relato descreve um profundo e misterioso aspecto pedagógico. Para elucidá-lo, comentaremos um dos diálogos mais importantes de Platão — o Ménon. Logo no início do diálogo, surge uma grande questão, colocada por Ménon a Sócrates: a virtude pode ser ensinada? Sócrates, como poderíamos esperar, não responde diretamente à pergunta, dá um passo para trás e afirma que, para discutir a questão, é necessário antes saber o que é a virtude, coisa que ele não sabe.
Ménon, confiante por muitas vezes já ter ouvido os grandes oradores e discursado belamente sobre a virtude, começa seu discurso, ao passo que Sócrates o vai interrompendo e mostrando as incoerências do que está dizendo. Depois de um longo trecho nessa aparente disputa, Ménon desiste e, revoltado, diz:
“Sócrates, eu já tinha ouvido falar, antes mesmo de conhecer-te, que não fazias outra coisa sendo confundir-te e levar também os outros à confusão. Agora mesmo, ao que parece, encontro-me enfeitiçado por me deixares perturbado com teus sortilégios e encantamentos; estou assoberbado de dúvidas. Se me permitires uma brincadeira, direi que me dás a impressão perfeita, na forma e em tudo o mais, desse peixe achatado do mar, de nome tremelga, que deixa entorpecidos a todos os que se lhe aproximam e o tocam. A mesma coisa parece que fizeste comigo: encontro-me entorpecido; sim, entorpecido, tanto na alma como no corpo, sem saber como responder-te. No entanto, não tem conta o número de vezes que já discorri sobre a virtude, e com bastante proficiência, segundo creio. Agora, porém, não sei nem mesmo dizer o que ela seja [grifo nosso]. Por isso, sou de opinião que fazes muito bem em nunca viajar nem em te afastares daqui, pois, na qualidade de forasteiro, se procedesses dessa forma em outras cidades, poderias ser detido como bruxo”.
O que acontece aqui é muito semelhante ao relato de sala de aula que mostramos anteriormente. Pessoas que estavam completamente convencidas percebem que não sabem aquilo que pensavam saber. Tanto os alunos do 6º ano como Ménon sentem-se, a princípio, prejudicados por isso. Ménon reclama: “Estou atordoado! Isso é bruxaria!” A partir daí, Sócrates passa a mostrar-lhe que essa refutação não é um mal; muito ao contrário, é um grande bem: é o início de um trabalho intelectual mais profundo. Sócrates não estava disputando com Ménon. Estava usando uma certa pedagogia, a pedagogia da refutação (élenkhos, em grego), para purificar Ménon de suas opiniões. Somente quando Ménon percebe que, de fato, não sabe, é que Sócrates lhe faz o convite à meditação: “Assim, presentemente, a respeito da virtude, ignoro o que seja; tu talvez o soubesses antes de me tocares; mas agora parece que não sabes. De qualquer forma, desejo examinar o assunto contigo, para vermos o que vem a ser, afinal, a virtude”.
Depois do convite, o diálogo segue em busca da resposta. A atitude de Sócrates salienta que só é realmente possível encontrar a verdade se nos despirmos de um falso conhecimento aparente, pois ninguém busca aquilo que pensa já possuir. Então, é necessário conduzir o aluno por uma espécie de purificação, isto é, mostrar que saber é algo que está para além daquilo que se julga já possuir. Sócrates não estava simplesmente mostrando a Ménon que este não sabia o que era a virtude; estava mostrando que Ménon não sabia o que era saber, já que pensava saber algo que não sabia. Ora, essa é uma das grandes portas para a busca da sabedoria: saber quando se sabe e saber quando não se sabe — a sabedoria socrática, a essência do filosofar.
Voltemos a analisar mais detidamente o exemplo da sala de aula, a fim de entender o que acontece quando os alunos percebem que não sabem o que estavam afirmando. Em um primeiro momento, o professor faz perguntas cujas respostas eram simplesmente frases lidas e memorizadas anteriormente e, para os alunos, isso significava saber. Saber, para eles, era simplesmente memorizar uma informação. Quando os alunos, ao final, afirmam “Eu não sei!” é como se estivessem dizendo (ainda não totalmente conscientes), “guardei muitas informações que li e memorizei a partir da apostila, mas percebo que isso ainda não é saber.” Para saber, é necessário ainda um outro trabalho intelectual, distinto da leitura e memorização. Essas últimas são apenas uma parte do processo intelectivo.
Descrevemos aqui uma experiência que revela uma mudança no horizonte de consciência dos alunos. Existe algo que está além da textualidade do conhecimento, algo que não é acessível pela leitura e memorização, embora certamente as pressuponha. Abre-se uma porta para um novo começo, para que se possa vir a saber o que é saber.
1 – Platão, Ménon, trad. Carlos Alberto Nunes, EDUFPA, p. 239.
2 – Ibid.